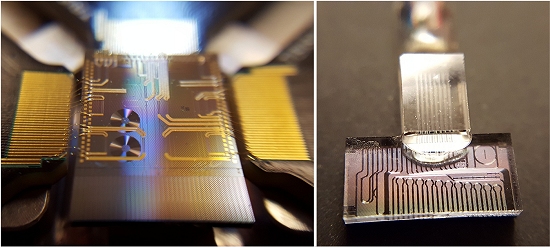“Saiba mais sobre o poder de 18 mil horas de TV em crianças e adolescentes"...; implicações nas modulações cerebrais. Começamos afirmando que as respostas não são assim tão fáceis. O cérebro está sempre aprendendo, também aprende no cinema, na televisão, na tela do computador, do celular e smartphone.Desde os primórdios que a tecnologia da comunicação humana foi criada que existe também expressões de violência neles. Encontramos expressões desde as primitivas pinturas dos humanódies nas cavernas hexâmetro à xilogravura, nas primeiras expressões pictográficas da escrita, na Bíblia, até ao vídeo e à expressão gráfica da Internet a www (World Wide Web). No entanto, gostaria de responder sobre qual a relação entre representação de violência em filmes ou televisão e a aprendizagem?”http://www.escala.com.br/sociologia-ciencia---vida-ed--73/pGilson Lima
Gilson Lima
Desde que os meios de comunicação social existem, que existe também representações de violência neles. Em Homero e Shakespeare há representação de violência da mesma forma que na Bíblia ou em pinturas antigas desde o hexâmetro à xilogravura, até ao vídeo e à www (World Wide Web). No entanto, gostaria de responder sobre qual a relação entre representação de violência em filmes ou televisão (e recentemente no computador) e a aprendizagem?
Infelizmente, as respostas não são assim tão fáceis. O cérebro está sempre a aprender, também aprende no cinema, na televisão e na tela do computador.
Concentrarei, sobretudo, num meio, a televisão, devido à sua ampla distribuição e sua grande abrangência e significado social.
Os dados abaixo publicados sobre violência na televisão utilizam, essencialmente, os dados dos EUA já consolidados e amplamente difundidos. Vejamos: os estudantes americanos gastam, até final da escola secundária (ou seja, 12 anos escolares), aproximadamente 13 000 horas na escola e 25 000 horas em frente de um televisor. Calcula-se que, desse total, 18 000 horas podem ser designadas como «aprendizagem visual dominada pela violência» (Barry, 1997, p. 301).
A Associação Médica Americana calculou que uma criança, até final da escola básica, já viu mais de 8000 homicídios e mais de 100 000 cenas de violência. Foi também calculado que as crianças que vivem em casas com televisão por cabo, até aos 18 anos já viram 32 000 assassinatos e 40 000 tentativas de assassinato e que estes cálculos ainda são mais elevados para determinados grupos sociais nos grandes centros citadinos (Barry, 1997, p. 301).
Com este conjunto de dados, existem pesquisas pormenorizadas relativamente aos conteúdos mostrados na televisão. Assim, num dia típico da semana (quinta-feira, 2 de Abril, 1992), em Washington, foi escolhido o programa dos dez canais de televisão com mais audiência, das seis horas da manhã até à meia-noite e foi analisado o seu conteúdo. O total das 180 horas de televisão incluíram 1846 atos de violência explícita, dos quais 751 com situações de ameaça de morte e 175 com desfecho de morte.
Não só as próprias cenas de violência como também o seu contexto deve ser classificado como maximamente desfavorável para o desenvolvimento das crianças. Uma avaliação de cenas de violência num conjunto de 2500 horas de programas de televisão evidenciou que o culpado não foi punido em 73% dos casos (Wilson e col, 1997, p. 141). Mais de metade (58%) de todos os atos de violência foram apresentados sem qualquer consequência negativa relativamente a danos. Apenas em 4% dos casos, foram mostradas alternativas de resolução do problema sem recurso à violência (Wilson e col., p. 128).
O comportamento das crianças também foi avaliado de muitas formas, em grupos de controle, tanto por meio de observação em situações naturais de jogo como também por meio de perguntas aos professores, crianças e jovens. Verificou-se que nesse período de dois anos, nas comunidades em que tinha sido introduzida a televisão, de acordo com observações e questionários, o nível de agressão aumentou: a agressividade verbal duplicou, a agressividade física quase que triplicou (um resultado altamente significativo). Isto verificou-se tanto em rapazes como em raparigas, em todas os níveis etários. Verificou-se uma relação entre o tempo que as crianças e os jovens tinham passado a ver televisão e a disposição para a violência. Pelo contrário, o nível de violência em ambas as comunidades de controlo ficou igual (Joy e col., 1986).
Também existem consequências, a longo prazo, da violência na televisão. Os dados mais importantes resultam das pesquisas de Eron e Huesmann (1986), que orientaram um estudo prospectivo, a longo prazo, em 875 jovens num período total de 22 anos (!), desde 1960 até 1981.
Os referidos jovens, que na primeira pesquisa, aos 8 anos, viam muitas cenas de violência na televisão, foram catalogados pelos seus professores como tendo maior probabilidade de serem cruéis e agressivos. Estes mesmos jovens, aos 19 anos, tinham maior probabilidade de ter situações de conflito e, aos 30 anos, tinham também maior probabilidade de serem julgados por atos criminosos violentos ou exerciam violência contra cônjuges e filhos.
O estudo mostrou claramente que a quantidade de cenas de violência que as crianças de 8 anos tinham visto na televisão permitiam predizer a violência destas crianças quando adultas. Mostrou também o seu efeito nas gerações seguintes, no sentido em que os jovens que aos 8 anos já tinham visto mais violência na televisão tinham maior probabilidade de agredirem mais tarde os seus filhos.
Os resultados destes estudos são importantes. Contudo, a questão sobre se a violência na televisão conduz a mais violência na vida real não é possível de responder com os referidos estudos, porque podem sempre ser incluídos, a nível puramente teórico, outros fatores, que talvez tenham uma influência que não foram controlados. Contudo, estas pesquisas muito bem orientadas metodologicamente permitem estabelecer esta relação com segurança. Este é particularmente o caso, quando consultamos os resultados de estudos, que foram orientados com outros pressupostos metodológicos de fundamentação. Estas novas metodologias de pesquisa do conhecimento são, por um lado, experiências de laboratório e, por outro lado, os chamados estudos de campo. Apresentamos em seguida exemplos dos dois tipos de
Centerwall (1989a,b) pesquisou a relação entre a introdução da televisão e a frequência de homicídios na população branca dos EUA, no conjunto da população do Canadá (97% branca) e na população branca da África do Sul. Depois de se ter introduzido a televisão nos EUA e no Canadá, na década de 1950, verificou-se uma duplicação dos homicídios num período de 10-15 anos. Durante o mesmo período de tempo, o número de homicídios na África do Sul diminuiu em 7%. Depois da introdução da televisão neste país, no ano de 1975, os homicídios aumentaram, até 1987, 130%. O autor comenta:
«Se a televisão nunca tivesse sido introduzida, existiriam atualmente, nos EUA, anualmente, menos 10 000 homicídios, menos 70 000 violações e menos 700 000 delitos com ferimentos noutras pessoas.» (Centerwall, 1992, p. 3061, tradução do autor.)
Outro autor compara a fixação da mente no ecrã com uma meditação budista, cujo alvo fosse esvaziar o espírito e libertar as preocupações terrenas:
«Um texto [budista] diz-nos que... devemos meditar por meio da concentração num arco-íris. Os acontecimentos entre o acordar e o [à noite] tempo de televisão são as nossas preocupações terrenas. A televisão é o nosso arco-íris. A televisão induz em nós um estado que se parece muito com a qualidade da meditação. Por isso vemos muita televisão.» (Fowles, 1992, p. 244; tradução do autor.)
A citação torna claro que, apesar dos resultados contraditórios de abuso de violência resultantes da investigação empírica, até hoje é argumentado, de forma ainda não contestada, que há um efeito positivo da televisão no potencial de violência.
Dessensibilização
Quando os organismos estão permanentemente expostos a um determinado estímulo ou a uma determinada classe de estímulos, a reação a estes estímulos vai sempre diminuindo. Falamos de dessensibilização. Trata-se também de uma forma de aprendizagem. O fenômeno existe em diferentes espécies e é relativo a diferentes classes de estímulos, entre outros, também, para a pessoa e a violência.
As investigações mostraram, respectivamente, que quem vê sempre filmes de violência reage menos fortemente às cenas de violência nesse filmes (Cline e col, 1973). O comportamento é generalizado do filme para a realidade (Thomas e col., 1977). A observação permanente da violência na televisão leva a que as formas de comportamento violento no espectador subam mais do que o normal. Não só a experiência e as reacções vegetativas mas também o comportamento da pessoa mudam de forma correspondente, tal como, em 1992, a Associação Americana de Psicologia (American Psychological Association, APA) colocou a questão. Em resumo: a observação de violência leva a comportamentos de embotamento e de indiferença face à violência.
Crianças em frente da televisão
Afirma-se muitas vezes que as crianças podem distinguir muito bem entre a realidade virtual e a real. Talvez possamos afirmar isto em relação às crianças mais velhas, mas não relativamente às mais pequenas, até aos 8 anos, que têm muitas dificuldades em distinguir a realidade da fantasia. Pesquisas americanas e canadianas, em crianças em idade escolar mostraram efeitos da aprendizagem tornam-se crônicos e permanecem até à idade adulta (Centerwall, 1992). Também as crianças mais velhas e, não menos importante, os adultos, podem aprender com as imagens televisivas como aprendem por meio de imagens reais.
A observação da violência é para nós um exercício de aprendizagem, tal como olhar borboletas ou folhas: quem já viu milhares delas, de fato já não as distingue, porque já conhece o processo. Para falar de violência na televisão, sejamos breves e pragmáticos: quem vê filmes de terror e de violência aprende horror e violência. A longo prazo, ele cruza-se, passo a passo, com o horror e a violência. Ainda mais: o aprendido influenciará o seu comportamento e, assim, a vida social na sociedade em geral.
Quem refere que as crianças e os jovens podem separar bem a televisão do mundo real, deve lembrar-se que também alguns adultos se transformam em atores, para responderem às questões da vida, não como espectadores, mas desempenhando na vida real os papéis que vêem na televisão - pai, médico, conselheiro - ou seja, personificando os papéis.
Conclusão: violência como poluição ambiente
É surpreendente que até hoje a relação entre violência na televisão e violência nas crianças seja contestada, cada vez mais, pelos jovens e mais tarde pelos adultos. Apesar da enorme controvérsia na discussão deste tema sensível, a reflexão dos métodos de investigação utilizados (e assim a fiabilidade dos resultados dos próprios estudos) é de grande significado. Podemos considerar, na perspectiva do design dos estudos, em princípio, três tipos de pesquisas diferentes: experiências de laboratório, estudos de campo e estudos em condições naturais. Todos têm as suas vantagens e desvantagens.
Nas experiências de laboratório, em que um grupo via vídeos de violência entre crianças e o outro via vídeos sem violência, foi observado um claro efeito de aprendizagem de violência. Estas experiências apontam para razões-efeitos-relações entre a televisão e a violência, de forma clara. A desvantagem das experiências de laboratório são a «artificialidade» do setting, o que essencialmente deveria conduzir a uma subavaliação do efeito real da televisão, pois em casa vê-se mais televisão do que no laboratório e no laboratório não são identificáveis os efeitos a longo prazo da televisão.
Nos estudos em condições naturais, foram pesquisados, por exemplo, os efeitos da introdução da televisão numa comunidade ou num país. Às vantagens das condições de um estudo em ambiente natural e prováveis grandes números de casos, opõe-se a desvantagem de não controlo de muitas condições de pesquisa.
Entre as experiências de laboratório e os estudos em ambiente natural, ficam os estudos de campo. Através de uma divisão aleatória de grupos, eles possuem uma melhor significância (através da eliminação de uma influência de selecção disruptiva), do que os estudos em ambiente natural e, pela observação no mundo real (vê-se televisão ou não; o comportamento é observado e avaliado nas condições normais de vida), a artificialidade do laboratório é evitada. Contudo, também os estudos de campo têm as suas desvantagens, pelo que todos se devem complementar reciprocamente. O método de laboratório permite a precisão, olhar o comportamento ao microscópio; contrariamente aos estudos de campo e aos estudos em condições naturais, há uma correspondência entre os dados obtidos no laboratório e o mundo real.
Os resultados obtidos com os referidos métodos são claros: há uma relação manifesta entre a observação de violência na televisão e a violência no mundo real. O que é perverso nesta relação - à semelhança da relação entre o fumar e as doenças pulmonares - é o atraso de pelo menos um ano. Se a violência aumentar, já será muito tarde.
Na perspectiva neurobiológica, a violência fala de procedimentos instintivos de dedicação da atenção, embora as crianças não possam mostrar mais nada além destes conteúdos que deveriam ser eliminados. A neuroplasticidade do cérebro, fortemente impregnada na idade infantil, causa portanto a construção de representações correspondentes nos mapas corticais portadores de sentido a nível superior nos adolescentes, que precisamente desta forma ficam instalados para operar efetivamente nos comportamentos futuros.
Também é muito significativo que nos organismos em que estão instalados de forma permanente um determinado estímulo ou uma determinada classe de estímulos, a reacção emocional a esses estímulos vai decrescendo cada vez mais. Falamos de dessensibilização. O fenômeno é válido para diversas espécies e em diversas classes de estímulos, entre os quais também as pessoas e a violência. Os estudos empíricos podem mostrar: 1) quem vê continuamente filmes de violência reage menos às cenas de violência apresentadas nos filmes; 2) o comportamento generaliza-se do filme para a realidade; 3) a permanente observação de violência na televisão leva a que as formas de comportamento violentas aumentem no observador mais do que o normal; 4) o comportamento da pessoa muda no mesmo sentido. Em resumo: a violência na televisão leva a uma fundamentação da nossa disposição neurobiológica para mais violência no mundo.
O que se segue? Virá o tempo em que nós vamos ouvir negar sistematicamente estas relações. Devemos compreender que a violência na televisão tem o mesmo valor na nossa sociedade, que, por exemplo, a poluição: se os comportamentos de produção abandonarem o mercado livre, sobrevive quem produzir mais barato, o que significa o mesmo que produzir da forma mais suja. Ninguém quer um ambiente poluído, mas sem vontades políticas de todos e sem regras adequadas, só sobreviverão no mercado aqueles que produzirem mais barato na opinião mundial. O mesmo se passará com o comportamento com os negócios de televisão, que vivem de contributos mundiais e são avaliados por quotas de audiência. A violência mostrada capta uma quota elevada de audiências, o que leva a que, a longo prazo, só sobrevivam no mercado aqueles que chamam a atenção do espectador com esses meios.
Os países ocidentais industrializados tomaram conhecimento de que devem ser tomadas medidas sobre aspectos do meio ambiente - poluição ambiente, micropoeiras ou DDT - que têm efeitos complexos e a longo prazo, mas que podem controlar o nosso meio ambiente e, em última análise, a nossa vida. A continuidade da violência nos meios de comunicação, nos nossos mapas corticais não é - como acima indicado - menos dramática. Haverá tempo que nós teremos de refletir numa perspectiva de austeridade de alimentação visual-mental das nossas crianças, de uma forma séria. Não devemos minimizar o assunto.
E ainda o seguinte: quem, como reacção aos 16 mortos de Erfurt em 26 de Abril de 2002, continua a utilizar armas, está errado. Facas de cozinha, navalhas ou aviões de passageiros não podem ser proibidos, e no entanto também podem ser utilizados, letalmente, como acontece com as pistolas e outras armas. De facto e de forma duradoura podemos lutar contra a violência quando oferecermos às pessoas uma perspectiva mais alargada de possibilidades de resolução de conflitos, certamente um material de aprendizagem muito melhor do que aquele que é fornecido pêlos meios de comunicação.
A indústria (Hollywood, proprietários de redes televisivas, realizadores de programas, etc.) fala de autocontrole voluntário, da responsabilidade dos pais e afirma defender o direito de liberdade de opinião. Os próprios meios de comunicação disfarçam as circunstâncias e minimizam a miséria. Poucas semanas antes dos acontecimentos em Erfurt, a Focus (n.° 12; 18 de Março de 2002) publicou um artigo sob o tema: «As crianças devem ver televisão». Nele argumentava-se que as crianças que não vêem televisão podem ser marginalizadas nos grupos. Mas quando, como a academia pediátrica americana referiu, as crianças até aos 18 anos, nos EUA, já viram 200 000 atos de violência, só na televisão, talvez fosse melhor que todos nós fôssemos marginalizados!
Pos scriptum: jogos de computador - aprender pela ação
Há cerca de 25 anos, surgiram os videojogos como uma coisa inofensiva; jogávamos amigavelmente pinguepongue, Tetris ou Pacman. Isto alterou-se num período de apenas 10 anos, com o desenvolvimento sempre crescente do computador. Em 1993, durante a época do Natal, a festa da paz e do amor, apareceu à venda nas lojas um videojogo de violência muito realista, que foi um êxito de vendas. O herói não disparava apenas contra discos voadores virtuais; não, ele decapitava os seus inimigos e arrancava-lhes o coração do corpo. Em jogos como Mortal Kombat, a morte do inimigo é claramente o alvo. Como uma análise comparativa de 33 videojogos Nintendo e Sega evidenciou, temos conteúdos de aproximadamente 80% de violência e agressão, sendo 20% de conteúdos explícitos de violência contra mulheres (Dietz, 1998).
Ao contrário do número enorme de estudos empíricos relativos ao efeito de apresentação de violência na televisão, a literatura científica sobre jogos de computador e de vídeo ainda é muito vaga. Também aqui, na perspectiva dos jogos de computador é sempre alegado que - contrariamente ao que é verificado claramente sobre a televisão - «os jogos de vídeo podem ser úteis e podem ajudar a que as energias agressivas sejam reprimidas» (Emes, 1997, p. 413; tradução do autor).
Neste preciso cenário de fundo, a pesquisa descrita a seguir, de Anderson e Dill (2000), tem grande significado, pois ela mostra como uma das mais significativas formas de ocupação de tempos livres da nova geração funciona sobre o seu pensamento, sentimentos e comportamentos. Os autores referem que jogos repetidos de violência levam, a longo prazo, à aprendizagem de emoções, pensamentos e disposição para comportamentos correspondentes. Eles descrevem-nos como segue:
«Os efeitos a longo prazo da violência nos meios de comunicação são o resultado do desenvolvimento, da sobreaprendizagem e do fortalecimento de estruturas de conhecimento dos que exercem a agressão. [...] De cada vez que as pessoas jogam jogos de vídeo violentos, repetem programas de comportamento agressivo, que ensinam e intensificam a atenção contra o inimigo, no sentido de uma mudança perceptiva. Por vezes, aquilo que foi aprendido e intensificado transforma-se em ações agressivas contra os outros, expectativas de que outros actos agressivos sejam realizados e que a resolução de conflitos com recurso à violência seja significativa e eficaz. A exposição repetida a situações visuais de violência conduz em direcção a um embotamento face à violência. A criação e automatização de estruturas de identificação com o agressor, tal como a dessensibilização, levam por fim a uma mudança de personalidade.» (Anderson e Dill, 2000, p. 774, tradução do autor.)
Os autores orientaram duas pesquisas com metodologias complementares diferentes. Numa primeira pesquisa, foi avaliada a relação entre violência e não violência no jogo de vídeo e uma série de variáveis - como irritabilidade, agressividade, delinquência, opinião subjectiva sobre criminalidade e segurança pessoal - numa sequência de estudo em 227 colegas estudantes (78 homens, 149 mulheres), com idades médias de 18,5 anos.
Verificou-se que 207 estudantes (91%) no momento da pesquisa jogavam videojogos no seu tempo livre, num tempo médio semanal de 2,14 horas. Este tempo foi menor do que durante a fase escolar, para os sujeitos a quem foi pedido o mesmo: eles jogavam 5,45 horas, durante a escola secundária: 3,69 horas no início e 2,68 horas no seu final. Entre os 20 não jogadores, estavam 18 mulheres. Os jogos classificados pêlos estudantes foram, aproximadamente, um quinto com violência expressa e um quinto com violência acentuada. O jogo com videojogos de violência foi correlacionado de forma significativamente positiva com a delinquência agressiva (r = 0,46) e com a delinquência não agressiva (r = 0,31), tal como com o traço de personalidade agressiva (r = = 0,22).
Também mostrou que o jogo com jogos de vídeo violentos se correlaciona de forma baixa e significativamente negativa com a produtividade no estudo (r = - 0,08) e que o tempo gasto com videojogos tem uma correlação negativa significativa (r = - 0,2). Tal como os estudos acima referidos sobre a violência na televisão, as correlações nada dizem sobre a causas. Pode acontecer que os delinquentes tendam para videojogos violentos (e não, pelo contrário, estes jogos induzam comportamentos delinquentes). Para pesquisar as ligações causais é preciso, como acima discutimos, estudos experimentais adequados.
Assim, os autores conduziram, em 210 estudantes do ensino superior (104 mulheres e 106 homens), a seguinte experiência. Homens e mulheres jogavam um videojogo violento (Wolfenstein 3D) ou um não violento (Myst). Foi também pesquisado em todos os sujeitos o seu factor de personalidade irritabilidade (alta versus baixa), tal como a existência anterior de comportamentos agressivos e ideias e sentimentos agressivos. O comportamento agressivo foi assim pesquisado em laboratório e os sujeitos jogadores podiam ajustar a duração e a intensidade de som de alarme na sala do jogador supostamente adversário, quando este tivesse supostamente perdido. Sob determinadas circunstâncias, este tempo aumentava sobretudo mais nos jogadores de jogos violentos. O pensamento agressivo foi medido com uma experiência de leitura de palavras, na qual foi medido o tempo de reacção na leitura de um conjunto de 192 palavras de conteúdo neutro ou agressivo. Verificou-se uma diminuição altamente significativa do tempo de reacção em palavras com conteúdo agressivo depois de jogar com jogos agressivos no sentido de um efeito de via de abertura. Nos estudos experimentais, verificamos assim efeitos de comportamento e cognitivos, que falam claramente sobre um efeito de exigência de videojogos agressivos para que surja uma disposição dos jogadores para a violência.
Há boas razões para aceitar que os videojogos têm efeitos sobre a disposição para a violência; que, no caso da televisão, são ainda mais claros. Assim, Stickgold e colaboradores (2000) descobriram que nos episódios de sono, depois de um jogo de vídeo prolongado (foi jogado o jogo Tetris, não agressivo), aumentavam as componentes pictóricas do jogo. Curiosamente, isto diz respeito não aos aspectos triviais do jogo, como, por exemplo, o ecrã de computador ou o teclado, mas sim às características visuais dos estímulos que eram relevantes para o jogo. Discutimos anteriormente as relações entre os episódios para as ocorrências de aprendizagem, para reativar o aprendido e para consolidar os vestígios de lembranças. Destas descobertas experimentais, devemos assumir que também os conteúdos dos videojogos «são trabalhados durante» o sono e assim são consolidados.
Quem ainda duvida que os videojogos podem ter consequências devastadoras, traduzi para eles o seguinte excerto do trabalho de Anderson e Dill (2000, p. 772), que talvez mostre, mais claramente do que as estatísticas, para onde pode conduzir a violência nos videojogos:
«Em 20 de Abril de 1999, Eric Harris e Dylan Klebold desencadearam um ataque de terror na Escola Columbus, em Littleton, Colorado: assassinaram 13 colegas e feriram 23, antes de apontar as armas a si próprios. Apesar de não ser possível termos a certeza do que levou estes adolescentes a atacar o seu professor e os seus colegas de escola, há certamente vários factores envolvidos. Um desses factores são os videojogos violentos. Harris e Klebold gostavam muito de jogar o sangrento Doom, um jogo que foi licenciado e introduzido pêlos militares dos EUA para instruir os soldados para matarem os inimigos. Nos arquivos do centro Simon-Wiesenthal, uma instituição que tem como alvo os indícios de ódio e violência na Internet, foi encontrada uma cópia, no website de Harris, que continha uma versão formatada personalizada do jogo Doom. Nesta versão, havia dois soldados, carregados com armas extra e com um número ilimitado de munições, e inimigos que estavam indefesos. Como trabalho de projecto no âmbito do ensino, Harris e Klebold tinham produzido essa versão personalizada do Doom. Neste vídeo, Harris e Klebold usam gabardinas, estão armados e assassinam, colegas de escola. Menos de um ano depois, actualizaram na vida real esta simulação de vídeo. Como o investigador do Centro Wiesenthal disse, Harris e Klebold "jogaram o seu jogo na modalidade Deus".»